Por então, o meu corpo já só obedecia à dor que pulsava em galope nas têmporas. Sentada e incontida na sanita, sem defesa contra o frio, apesar do saco-cama pelas costas; de olhos fechados para evitar a dor da luz, apesar da noite e tudo apagado; agarrei melhor a minha cria de três meses, que berrava e esbracejava no meu colo, para me levantar e vomitar, por cima dela, para o lavatório. Os berros da cria eram setas de aço gelado nos meus ouvidos; o cheiro a vómito, a fezes, a urina e a suor, facas a rodarem repetidamente no meu cérebro em espasmo. Ninguém é dono do corpo durante uma crise de enxaqueca severa, menos ainda quando o vómito teima em expulsar a medicação. O pai da cria encaminhava-se algures do trabalho para a sala de espera de um consultório de pediatria, no meio da cidade. Não havia telemóveis, e o único telefone em casa estava do outro lado de um corredor, então obscurecido.
Aconchegando a minha cria contra mim, enquanto ela me cravejava o cérebro de setas berrando e suando de tanto berrar, fixei o pensamento no corredor que nos separava do telefone, e o meu corpo ordenou-me a imobilização, mesmo ao preço da dor galgando sob os gritos da minha cria de três meses. Mesmo ao preço da morte: tudo menos o movimento com inevitáveis acréscimos de dor, tudo menos a possibilidade de uma réstia de luz qual espada de laser a queimar, olhos dentro. Consegui desobedecer ao corpo, e alcancei uma cama, logo ao lado da casa de banho. Batendo os dentes, gelada, cambaleando, seminua, de olhos semiabertos, troquei a fralda à cria, dei-lhe água; e a cria, exausta, adormeceu. O meu corpo continuou a repetir-me a grande mentira: enrola-te no saco-cama, e não te mexas que passa. Agora no silêncio e no escuro, se não te mexeres vai correr tudo bem. A grande mentira: basta não te mexeres. Tudo em troca do ínfimo alívio imediato. Por um miserável grão de alívio, o corpo – cobarde – tudo diz.
Duas horas antes, o sol atravessava alegre as cortinas da sala, afagando o telefone fixo. A rapariga, antiga aluna, tagarelava em frente a mim no sofá. Amavelmente, tinha vindo visitar a minha cria recém-nascida; e a cria, no meu colo, esbracejava, encantadora no seu fato axadrezado verde e branco. Eu ia perguntando, para ouvir, enquanto mergulhava o nariz nos caracóis da cria reconhecendo o cheiro, e a segurava contra mim. A D. Luísa veio despedir-se pelas cinco horas, e a rapariga retirou-se afetuosamente pouco depois. Era fevereiro e a luz declinava. A dor começou a instalar-se, assim que fechei a porta da rua; apressei-me a arranjar o saco para rumarmos à pediatra; nunca chegámos a sair.
No quarto escuro, ouvindo a respiração adormecida da cria, entre os espasmos supliciantes do meu cérebro, voltei à imagem do corredor, que se alongou quilómetros no frio breu antes de me conceder a figura do telefone salvador. Pensei que, mesmo se conseguisse arrastar-me pelo corredor fora, certamente não suportaria a luz indispensável para consultar o caderninho dos telefones e ligar para o consultório da pediatra.
Deixei a cria amparada a dormir na cama, fui encostada às paredes de olhos fechados, músculos em falta nas pernas. No escuro, liguei o número da minha mãe, que mora a 200 quilómetros, por sabê-lo de cor. Reconheceu o quadro familiar, desligou e ligou à minha irmã que, trabalhando em Sintra, atravessou o trânsito de fim de dia, para vir socorrer a cria.
Passo há muitos dias, diariamente, pelo título do jornal Público «Enxaquecas. Viver com uma ‘bomba-relógio’ na cabeça». O pior não é a dor, nem mesmo a que se prolonga por semanas ou meses e faz clamar pela clemência de uma droga dura. O pior é a espada de Dâmocles que sempre pende sobre todos os planos, todos os compromissos. O pior é a especialização forçada em planos B, em suspensões e recomeços, uma e outra e outra e outra vez. O medo-caruncho de falhar, e a culpa. Porque não dormiste o suficiente, porque dormiste demais, porque trabalhaste além da conta, porque bebeste vinho, porque comeste morangos, ou chocolate, porque não comeste, porque não tomaste logo os comprimidos, porque tomas demasiados comprimidos, porque falaste muito, porque não falaste, porque andaste ao sol, porque não vais consultar o 123º médico, porque não experimentas o 85.º novo tratamento, com agulhas, com choques, com ervas, com massagens, agora é que é… Porque não aguentaste, porque aguentaste.
Esta dor não mata, portanto culpa, e gera suspeita. Faz dependentes ou faz sobreviventes. E os sobreviventes são assustadores para não dizer odiosos, sabe-se lá do que foram capazes, do que serão capazes. Se é que dizem a verdade. Como é possível que digam a verdade? Ninguém aguenta o que dizem, que exagero, pieguices… Ainda por cima depois, vai-se ver, nem sequer estão sempre de cama, não são dependentes, são sobreviventes, logo, certamente culpados, sem tanta coita assim. O pior não é a dor. O pior é o molde da dor, no perfil que nos define.
Sou das afortunadas que encontrou, há meia dúzia de anos, um profilático com resultados razoáveis. Por enquanto.
Ângela Correia
(editado por Nazaré Carvalho)

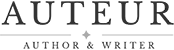
Maria João Mata
Um texto que muito de sofrido…, também nos embala de poesia. Belo.
Angela Correia
Muito obrigada,
Ângela Correia
José Serra
Faltou a hipnoterapia… que viria estragar todo o dramatismo doloroso e inquietante do texto.
Angela Correia
Culpada, caro amigo 🙂