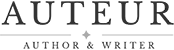Há três anos, época em que vagueava por uma Lisboa desconhecida em busca de esconderijos sossegados onde pudesse passar as horas mortas, descobri a Biblioteca dos Coruchéus. Fugida da tribo bêbeda e barulhenta que os meus colegas universitários me pareciam, desculpava certa incapacidade de integração social na preferência pela companhia dos livros. Na altura, tinha 18 anos e encontrava-me fortemente afetada pelo efeito melancólico da poesia de Pessoa, quando dei por mim a passar por uma rua com o nome do poeta. Claro que uma mente adolescente lê estas coincidências como sinais poéticos que a vida parece não se cansar de ofertar. Ao fim da rua, alva e modesta entre as árvores, lá estava a biblioteca que veio a tornar-se no refúgio de uma timidez mascarada, durante os anos de faculdade.
A minha curiosidade pelos Coruchéus, não enquanto biblioteca, mas enquanto palácio que também é, surgiu recentemente na divisão menos honrada do edifício: a casa de banho. A janela desta divisão é desconfortavelmente larga e expositiva, o que achei uma escolha pouco sensível de quem engendrou o espaço. Estranhei também a altura excessiva do teto, dada a ares de fineza. Comecei a matutar na questão.
Aberto o Dicionário da História de Lisboa, entre o Palácio das Cortes e João Guilherme Faria da Costa, encontrei um resumo de três páginas da história da Quinta e do Palácio dos Coruchéus. A maior curiosidade residia na origem no nome; infelizmente, ficou a questão por deslindar. Não existem registos textuais ou fotográficos de nenhuns coruchéus que, hipoteticamente, adornassem o palácio ou o muro fronteiriço da quinta. Foi a Câmara Municipal de Lisboa que, em 1945, passou a designar o edifício como palácio, quando dele tomou posse. Terá sido classificação mais pomposa do que se justificaria, visto que, na ficha matriz municipal, o edifício era descrito como «Construção antiga e modesta, para habitação, em mau estado de conservação». O Palácio serviu, durante anos, de armazém para adereços das marchas populares e semelhantes. Em 1960, a Câmara procurava um lugar para acomodar as obras de Diogo Macedo (autor das esculturas da Fonte Monumental da Alameda, conhecida como Fonte Luminosa), ao mesmo tempo que viu uma oportunidade para dar resposta aos rogos dos artistas por um local em que pudessem expor. O projeto apresentado faria dos Coruchéus uma área multidisciplinar com dois ateliers, unidade prática com tanques de argila e muflas, um jardim destinado a atividades infantis, restaurante, salas de exposição e de conferências, e uma biblioteca especializada, que, ironicamente, foi desativada por falta de consulta. Nos anos 90, foi ali estabelecido o Departamento de Património Cultural da Câmara. Em 2013, foi inaugurada a Biblioteca Municipal, a par de outras tantas da rede de Lisboa.
Ao comparar uma fotografia desta «casa-palácio-armazém-biblioteca», de 1965, com uma contemporânea constata-se que, apesar de tantas mudanças internas, o aspeto, visto do exterior, se mantém semelhante. Fascina e incomoda ligeiramente a ideia de que a mesma sorte poderia ter a minha casa de infância. Apesar de, mesmo com boa vontade, nenhuma câmara municipal a poder considerar um palácio. Mas é uma casa de família, como foi a dos Coruchéus. Lugar de eventos familiares, manhãs de Natal, discussões conjugais, confissões sussurradas, desgostos de amor. Levantei-me da cadeira, arrumei o Dicionário da História de Lisboa na estante. Ao sair da biblioteca, senti-me desconfortavelmente intrusa numa casa de que me apropriara emocionalmente.


Carolina Andrade