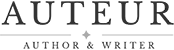O vento levante em chamas expulsou o dia. Surgiu a noite, ocultando a casa despovoada. Escondiam-se ali vincadas atrocidades. Nenhum astro brilhava. Tinha-se espalhado uma peste ambiciosa, um grande mal que apressara a devastação. Mãe, filha e filho ligados, sob a mesma tirania ruinosa. Mortos e mortos. A contaminação tinha sido total. Não era possível compreender.
Eu sabia que era necessário acreditar sempre no sonho. Ao longo dos anos, deixei a coragem alimentar-se do meu enorme sofrimento. A única força que me manteve viva foi o amor pela família e a esperança no teu regresso pela estrada por onde foste às cegas, à procura de fortuna. Foi o amor materno que me equilibrou as exigências do corpo e do espírito. Disse baixinho: «Tenho vontade de abraçar-te. Perdoa-me, se não te reconheci de imediato. Neste corpo pouco vivo, a visão já é menos de metade». Após uma breve pausa, levantei-me, desloquei-me silenciosamente para junto da porta do quarto e acrescentei: «Voltaste da minha memória para a minha vida. Descansa, meu inocente filho. Aguardo que te libertes do sono tranquilo. Eu compreendo».
Sentei-me a olhar para a porta do quarto de hóspedes. Estava concentrada, como quem analisa uma incerta disposição de riscos, aparentemente incontornáveis. Seguidamente, precipitei-me para o armário, onde a minha mãe guardava o remédio contra os ratos. A coloração do rótulo da garrafa oscilava entre grandes registos de vermelho e relampejos de preto, com uma caveira de um amarelo vivo, no centro. Ao tirar a tampa, fiz um gesto rude com as narinas, como se alcançasse dali, pelo olfato, o cheiro do dinheiro. Atravessando o calor, fui trancar-me na casa de banho. Abanava a cabeça de um lado para o outro, de um modo excitado, e começava a acreditar nas palavras que proferia baixinho: «Não vou virar costas à fortuna». Tive medo de que alguém ouvisse. Agarrei no veneno e deixei escapar algumas gotas que se solidificaram no fundo do copo de água. Misturei com o dedo. Inesperadamente, senti uma brisa duvidosa. Como se estivessem atrás de mim. Ao virar-me, encontrei a minha cara refletida no espelho. No sítio do nariz, não tinha nenhuma saliência. Apenas dois buracos na cara. Então, sem inquietude nem conflito, declarei: «Eu compreendo».
O sol pesava sobre os campos. Às três da tarde, estava quente demais para se andar a pé, a transpiração caía-me pela cara como uma chuva ardente. No alcatrão rolavam lentamente pequenas ondas de calor, que rebentavam com uma espuma animada. Ouvia as cigarras que acompanhavam os meus pensamentos: «Tantos anos a trabalhar. Parti com pouco mais de um palito na boca e um ar triste. Contudo, tive sorte e fiz fortuna». Desci a mão para dentro da pesada mala que trazia a tiracolo, agarrei num dos maços de notas e beijei-o a rir. Voltei a rir de tal forma que o beijei outra vez. Depois mudei de expressão. Adivinhava a cara de flor da minha outrora pequena irmã e projetava-a no céu aberto. Era bom regressar à terra conhecida, naquele dia de verão. Deixar de ser estrangeiro, voltar ricamente inspirado ao sítio onde nasci. Desejava também ver a minha querida mãe. Enquanto pequeno, andava sempre junto dela. Eu bem a compreendia. Reparei que, pouco a pouco, o caminho tornava-se mais curto. O destino aproximava-se. O sol mantinha-se enorme e fazia vibrar a paisagem. Raras casas brancas, entre amendoeiras e alfarrobeiras, reflectiam a luz nas paredes caiadas. As cigarras ditaram-me então um outro pensamento, que veio cravar-se no meu juízo: «Deveria fazer uma surpresa à minha mãe e irmã. Fazer passar-me por alguém que quer arrendar o quarto, e partilhar recordações de um outro tempo, até que descubram a minha verdadeira identidade». Então, retorcendo o bigode, declarei: «Eu compreendo».
Hélio Sequeira