Não sei se alguma vez se cruzaram com um diospireiro adulto no outono. Por aqui, onde vivo, vejo muitos, mas jovens, baixinhos, de copa arredondada e tronco débil. Conheci em tempos um, gigante e velho, isolado num campo raso, estendendo troncos para cima e para os lados com a robustez serena de quem pode e sabe impor-se aos céus e à terra. No outono, as cores ao alto de um diospireiro adulto são de molde a recordar que os deuses existem e se despenham suavemente sobre o chão feito para nos receber. Quando eu era menina e as palavras não me chegavam, havia no outono este diospireiro erguendo-se num campo raso, em que ninguém reparava. Nem mesmo eu, se excetuarmos a parte de mim que distraidamente ia fabricando memórias para a frente. Parte pequena, que não me impedia de brincar por ali com primos e irmão; o diospireiro, a passos de nós, erguendo-se indiferente sobre a nossa indiferença. Atada ao vultoso tronco do diospireiro, costumava estar uma cabra de pelo castanho, curto e grosso, o ventre bojudo. Estava ali, ora de pé ora deitada, tasquinhando continuamente a erva à volta. Ao lado do diospireiro, um caminho, e do outro lado do caminho, dois ou três carvalhos cortados pela base. De novo cheios de rebentos, eram casas de brincar, para mim e para a prima. O redondo dos troncos cortados: mesas e bancos. Cacos de vidro, pedaços de tijolo e telha, bugalhos, galhos, folhas, musgo: loiça, talheres e comida. Ao longe, os rapazes corriam de varas na mão e gritavam. Um pouco à frente, a figueira de figos brancos. Trepávamos por ela para alcançarmos os figos pingo de mel, até que os lábios nos ardessem insuportavelmente, e as mãos, meladas e encardidas, se colassem ao tronco, ameaçando arrancar pele. Sempre no outono.
A figueira alinhava com a esquina da casa; uma daquelas casas nascidas de dentro para fora. A escada lateral dava acesso a uma varanda, bastante ocupada de vasos com plantas, floridas às vezes. A casa por fora não tinha outro relevo, e por ali se tinha acesso ao interior, no primeiro andar, mas via-se também o quintal, em baixo. A varanda é uma ferida e a casa dobra-se naquele ponto sobre si própria; os vasos deslizam devagarinho para dentro da dobra que é uma ferida: a varanda. Eu estou lá no alto, recém-chegada de outras paragens, um pouco estrangeira, portanto; loira, deslavada e franzina. Ladeiam-me, quase encostadas a mim, as primas que ali moram desde sempre, morenas, quietas como eu. No quintal, um enorme porco cor-de-rosa, atado pelos pés e forçado à horizontalidade por uma roda de homens calmos contra os guinchos agudos e aflitos do porco desesperado por soltar-se. O meu pai não era um estrangeiro como eu, era um regressado; dali partira e ali se esforçava por regressar. Estava necessitado de prestar declarações, porém; que regressar não é questão de simplesmente estar de volta. O facalhão apontado ao pescoço do porco, cujo corpanzil gordo e cor-de-rosa se agitava; a adrenalina no joelho esmagando as costelas do porco; tudo eram provas prestadas, demonstrações de regresso a fazer. Lá no alto da varanda, que se ia convertendo em ferida e forçando a casa a dobrar-se sobre si mesma, eu e as primas encostávamo-nos mais umas às outras, agarrávamos muito devagarinho a trave horizontal da varanda e os nossos corpos tornavam-se rígidos como discos de memória. Lá em baixo, à volta da roda dos homens, uma roda de mulheres tinha prontos alguidares, tripas espalmadas, sal, funis de boca larga, cominhos, tudo para fazer os enchidos. Falava-se, ordenava-se, dispunha-se; as mulheres falavam, os homens falavam segurando o porco, todos se vigiavam, e o pai com o joelho submerso nas costelas do porco afundou o facalhão no pescoço do animal, que guinchou ainda mais, e mais se contorceu, até conseguir. De facalhão espetado no gordo pescoço, o porco soltou-se por fim dos homens, do meu pai. Como uma bailarina, de pés atados, ondulou pelos ares esguichando sangue em volta, e veio cair ao lado da bancada improvisada no quintal. Gritos, recriminações, passos à frente e atrás, risos nervosos.
Diante de um alguidar cheio de sangue fumegante, o verbo desmanchar com novo sentido. Espreitei a alegria das mulheres ao mergulharem as mãos nas carnes exalando vapores de alho, sangue e cominhos, para encherem as tripas pelo funil de boca larga. Uma alegria insuflada de pressa, fumo, sal e suor. Diferente da alegria leve e sossegada com que desdobrariam o alvo pano para descobrirem a alva renda do serão, depois de passarem as mãos demoradamente por limão. Muito limão.
Era outono um dia; eu e a prima brincávamos às casinhas entre os rebentos de carvalho. Concentradas nas invenções necessárias, a parte de mim que fabrica memórias para a frente comovia-se com o estado fogoso do diospireiro contra o céu azul, derramando-se assim suavemente sobre a terra. A cabra do ventre bojudo estava lá e, quando passou o avô da prima, a cabra estava deitada e não mastigava. O avô da prima é uma figura de cartolina preta com chapéu, capote e cajado. Tão silencioso quanto uma figura de cartolina preta. No momento em que passou entre nós e a cabra sob o diospireiro, o avô da prima desviou-se em direção à cabra. E nós levámos as invenções de casa e comidas para lá também. Os rapazes ao longe corriam sempre; corriam, escondiam-se, assomavam e gritavam. O avô da prima agachou-se agarrado ao cajado com uma mão, e estendeu a outra para ajudar a cabra a expulsar do ventre dois ou três cabritos, que ali ficaram no chão ao alcance do focinho da cabra. Continuei a inventar com a prima realidades alternativas em torno de cacos e bugalhos, mas o meu estômago começou a transformar-se noutro órgão, mais parecido com os pulmões de uma rapariga de romance romântico, prestes a tossir sangue por amor. Pessoa avisada estará agora pensando que as cabras não são de parir no outono. Talvez não sejam, o que é totalmente irrelevante, porque o meu diospireiro adulto em campo raso há muito foi abatido e agora, tenham paciência, no céu que lhe coube após a morte, que é a minha memória, será sempre outono, nascerão sob ele, repetidamente, dois ou três cabritos com a ajuda de uma figura silenciosa e agachada, de cartolina preta.
Era primavera, porém, quando aluguei quarto no bairro de Alvalade, em Lisboa. Terceiro ano da faculdade, penso. Cheiro a imundície entranhada, família miserável. Estava eu a estudar Petrarca enquanto almoçava uma taça de Cerelac e me esforçava por ignorar o cheiro da casa, quando se ouviu o som da campainha. Um dos miúdos veio chamar-me ao quarto levantando nuvens de cotão e cabelos: era para mim. O meu irmão aguardava do outro lado da porta, igualmente atingido pelo cheiro da sujidade, preferindo-o, talvez, aos percevejos do quarto onde também estudava. Arremessou-me, antes de voltar costas: A prima morreu. Era primavera, estou quase certa de que era primavera.
Deixei de comer cabrito. Enfim, talvez tenha comido num ou noutro almoço pascal, quando a mãe fez passar por borrego o cabrito que eu me negava a comer. Só de pensar na possibilidade, porém, sinto criarem-se alvéolos pulmonares no estômago, já prontos para esguichar sangue romântico. Plantei também um diospireiro. Há quem regresse a casa para matar saudades. O meu caso é diferente. Fico de vigia ao meu jovem diospireiro, de copa redonda e tronco débil; em cada dia à espera de o ver projetar troncos para cima e para os lados, impor-se aos céus e à terra com a sabedoria dos outonos esplendorosos.
Ângela Correia
(Edição de Nazaré Carvalho)

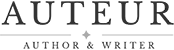
fernanda
Maravilha, Ângela Correia! Emocionante! Parabéns.
Ângela Correia
Muito obrigada, Fernanda.
Joao Pires
Excelente. Parabéns.
Gostaria de escrever um conto original e exclusivo até 2500 caracteres para o LUSO.EU ?