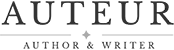Tivera uma sensação estranha naquele dia, no comboio, ao voltar para casa. Sentara-se virada na direção contrária à direção em que o comboio seguia confiante, sobre as linhas de aço que se ramificavam interminavelmente. Inclinou-se para a esquerda, depois um pouco para a direita, deixando-se levar pelo movimento incessante da carruagem, igual ao da carruagem da frente, a que seguia firmemente agarrada.
Também ela se agarrava firmemente ao assento, não por medo de ficar pelo caminho, mas por instinto. Um solavanco fê-la inclinar-se para a frente, e o corpo reagiu: as unhas vincaram a almofada desconfortável por rígida, derrapando no material que não ofereceu nenhum auxílio na tentativa de aferramento. As costas endireitaram-se, todo o corpo enrijeceu.
Sentiu a falta de um cinto de segurança e olhou para a direita à procura dele. Automaticamente, o cérebro disse-lhe, reprovadoramente, que se esquecera de o colocar. Que estupidez! Estava no comboio, e não era assim tão perigoso, pois não? A sensação demorou a passar. O solavanco não fora muito grande, mas ela sentira-o como se estivesse numa diversão de feira de meter medo ao susto. Só esperava que o resto das pessoas não tivesse reparado no salto que quase dera nem na cara de pavor instantâneo.
Foram apenas segundos, a cara era uma imagem de perfeita compostura para os menos atentos. Ninguém notou, só ela ficou a matutar no assunto. Foi como daquela vez, no carro (um carro a sério), em pequena. Num ínfimo espaço de tempo, a mente devaneadora imaginou-a a abrir a porta onde se tinha encostado, imaginou-a a ser puxada pela força de sucção e a rebolar pela estrada fora sem nenhum amparo, à mercê do alcatrão riscado pela borracha. Fora uma sensação igualmente assustadora. Criara-se um medo irracional em torno da falta de controlo sobre si própria. Porque, na verdade, quanto mais pensava naquilo, mais a mão parecia querer esticar-se para o puxador, como se incauta no intento.
Hoje sabia que seria impossível. A porta não se abriria facilmente àquela velocidade, até teria tendência a fechar-se. Mas, para a caixinha pensadora cuja corda dada nunca acabava, a única coisa que a salvara fora o cinto de segurança. Só ele a tinha impedido de se aleijar, de se deixar levar pela curiosidade mórbida e involuntária.
A voz de mulher quase robótica avisou de que chegara à paragem e ela apressou-se a pegar nos sacos de compras e na mala de pele preta, cujos pormenores dourados agora reluziam à luz dos candeeiros tremeluzentes. Um «bip» e a cancela abriu-se. Esticou os cotovelos para os lados, num movimento de antecipação defensivo, não fossem as portas fecharem-se na cara dela.
Já em casa, a primeira coisa que fez foi descalçar os sapatos, que deviam estar tão estafados quanto os pés, depois de embaterem contra a calçada toda a tarde. Pousou os sacos no quarto, exceto um que levou para a cozinha. Sacou de um prato e dispôs os bolos e guloseimas amontoados uns sobre os outros. Preparou leite com chocolate bem quentinho e levou tudo para a sala. Televisão ligada, manta sobre as pernas, cara lambuzada. Não gostaria de se ver ao espelho depois daquilo, mas talvez quando acordasse se sentisse melhor. Tudo passa depois de dormir; a manhã seguinte é a bênção de padre purificadora de pecados.
Era naqueles momentos, num espacinho recôndito e interdito da mente, que os neurónios se reuniam para tentar lembrar ao consciente o medo de não ter um cinto de segurança colocado. Seria preciso amarrar-se para impedir-se de fazer o que não devia?
Ana Rita Sintra